o futuro por brown, fraser e vergès
- flp ksntzk

- Apr 22, 2022
- 9 min read
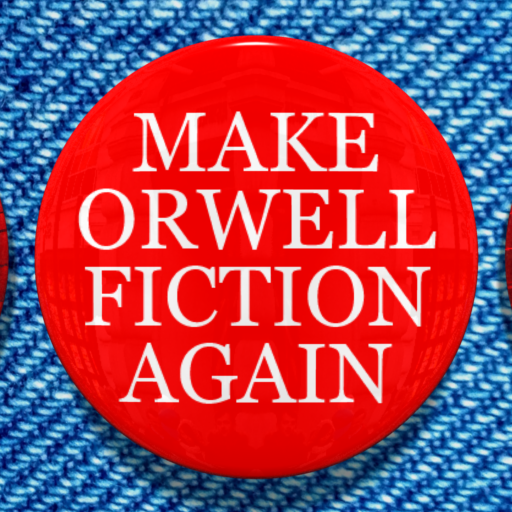
“Para sua própria surpresa, forças da extrema direita subiram ao poder nas democracias liberais pelo mundo todo.” (BROWN, 2019, p.9)
Assim, Wendy Brown inicia a introdução de seu livro “Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no Ocidente” onde analisa, entre outros eventos, a ascensão neonazista, neofacista, nacionalista, xenofóbica — porém, especialmente neoliberal — em diversas partes do mundo, com especial destaque aos países da Europa e Estados Unidos. Em contraponto, Brown aponta que o que tem prevalecido em resposta à esta ascensão tem sido uma indignação pouco eficaz no lugar de “estratégias sérias para desafiar essas forças por meio de alternativas convincentes” (BROWN, 2019, p.10).
Para Brown, não apenas as reações, em especial à esquerda do espectro político, tem sido limitadas, mas também as suas análises sobre o que vem ocorrendo. Estas, em sua maioria, focariam no abismo cultural e religioso criado a partir das políticas neoliberais do Norte Global que devastaram “áreas rurais e suburbanas, esvaziando-as de empregos decentes, aposentadoria, escolas, serviços e infraestrutura enquanto os gastos sociais minguavam e o capital ia à caça de mão de obra barata e de paraísos fiscais no Sul global” (BROWN, 2019, p.11), criando a base sólida de eleitores conservadores em busca de um novo Messias. Como aponta Brown: “o novo populismo de extrema direita sangrou diretamente da ferida do privilégio destronado que a branquitude, a cristandade e a masculinidade garantiam àqueles que não eram nada nem ninguém” (BROWN, 2019, p.13). Assim, as mazelas causadas pelas políticas neoliberais dos últimos anos, em especial o pós-crise de 2008 nos Estados Unidos, teriam sido associadas ao mundo contemporâneo e os (ainda poucos) avanços em relação aos direitos das mulheres, pessoas racializadas, LGBTQIAP+ e demais minorias, ajudando a evocar um fictício passado branco, masculino e heterossexual onde estas dificuldades econômicas e sociais não existiam e os valores familiares cristãos e conservadores estariam protegidos.
Brown concorda em parte com essa narrativa que se tornou, em suas palavras, “senso comum da esquerda”, mas busca apontar em sua análise que a mesma estaria incompleta, uma vez que entende que é necessário levar em consideração a “demonização do social e do político por parte da governamentalidade neoliberal”, a “a valorização da moralidade tradicional e dos mercados como seus substitutos”, a “desintegração da sociedade do descrédito do bem público pela razão neoliberal” e todos “os ataques à democracia constitucional, à igualdade racial, de gênero e sexual, à educação pública(…)” que foram construídos pelo neoliberalismo em nome de seus pretensos ideais e liberdade e da moralidade. Para Brown, uma importante parcela de como a ofensiva de extrema-direita chega ao poder em diversas partes do mundo a partir da segunda década do século XXI tem a ver justamente em como essa racionalidade neoliberal foi crescendo em diversos fatores e sendo imposta. (BROWN, 2019, ps.15 e 16) Focando em como as:
“formulações neoliberais da liberdade inspiram e legitimam a extrema direita e como a direita mobiliza um discurso de liberdade para justificar suas exclusões e violações às vezes violentas e que visam reassegurar a hegemonia branca, masculina e cristã, e não apenas expandir o poder do capital” (BROWN, 2019, p. 20).
Neste sentido, em seu quinto capítulo (intitulado “Nenhum futuro para homens brancos: niilismo, fatalismo e ressentimento”), Brown aprofunda a análise de como o neoliberalismo estaria imbrincado com o machismo e a misoginia nos tempos atuais:
“A combinação entre a reprovação neoliberal do político e do social e a masculinidade branca ferida e dessublimada geral uma liberdade desinibida, liberdade que é sintoma de uma destituição ética, mesmo que frequentemente se disfarce de retidão religiosa ou melancolia conservadora de um passado fantasmático (…) Trata-se de uma liberdade desenfreada e inculta, liberdade para cutucar as normas aceitas, descompromisso com o cuidado com o amanhã. Essa é a liberdade remanescente do niilismo, em gestação por séculos e intensificada pelo próprio neoliberahsmo.” (BROWN, 2019, p.210)
Para exemplificar uma expressão extrema do que seria esta exibição de “poder pela masculinidade”, Wendy Brown cita o movimento incel “composto por homens cuja ira por serem desdenhados ou ignorados pelas mulheres é voltada contra as próprias mulheres em agressões online”, que recorre à mesma visão niilista do tradicionalismo moral para justificar como direito o acesso masculino às mulheres (BROWN, 2019, p.211). Neste mesmo sentido, Brown cita diversos escândalos sexuais contra mulheres perpetrados por líderes políticos brancos e heterossexuais que não tiveram a devida repercussão e, principalmente, a devida punição por seus atos. Para a autora, uma resposta possível estaria no próprio niilismo que “deprime o significado da conduta , da consistência e da verdade : não é mais necessário que o indivíduo seja moral, apenas que grite sobre isso.” (BROWN, 2019, p. 212). E como ressalta Brown: “Um político não-branco ou mulher não poderia praticar uma destas atitudes sem perder imediatamente o cargo — que é precisamente o ponto” (BROWN, 2019, p.214). É justamente por trazer de volta os valores e legitimar as condutas dos homens brancos heterossexuais pretensamente destituídos de poder, que a ascensão de figuras à sua imagem e semelhança se perfazem. Através da legitimação daqueles atos pelos mais proeminentes mandatários de suas nações que demais homens brancos heterossexuais enxergam-se novamente em posição de superioridade tal qual estivessem eles mesmos promovendo tais atos e saindo mais uma vez ilesos por suas condutas. Ao enxergarem-se em seus espelhos, miram no mítico passado masculino, branco, heterossexual e cristão que buscavam resgatar ao sentirem-se despossuídos pela ações da própria política neoliberal a que foram submetidos e não conseguem enxergar.
“O ressentimento, o rancor, a raiva, a reação à humilhação e ao sofrimento — certamente todos estão em jogo hoje no populismo e no apoio da direita à liderança autoritária. No entanto, essa política do ressentimento emerge nos indivíduos que historicamente dominaram quando sentem tal dominação em declínio — na medida em que especialmente a branquitude, mas também a masculinidade, fornece uma proteção limitada contra os deslocamentos e perdas que quarenta anos de neoliberalismo produziram nas classes trabalhadoras e médias.” (BROWN, 2019, p.215)
Porém, apesar do feminismo, então, parecer um caminho natural de oposição a este neoliberalismo como descrito por Brown, Fraser aponta que este primeiro (bem como as “políticas de gênero”) também pode(m) ser cooptado(s) pelo segundo, uma vez que muitas das bandeiras da segunda onda feminista foram instrumentalizadas pela agenda neoliberal (FRASER, 2009, p.11). Ao mesmo tempo em que a segunda onda do feminismo é frequentemente associada por diversas vertentes apenas à transformação cultural¹ , não apresentando a força de “transformar instituições”, para Fraser esta visão é limitada e a real questão vai além disso (FRASER, 2009, p.13), uma vez que entende que:
“a difusão de atitudes culturais nascidas da segunda onda foi parte integrante de outra transformação social, inesperada e não intencional pelas ativistas feministas — uma transformação na organização social do capitalismo do pósguerra.” (FRASER, 2009, p.14).
Neste sentido, seria como as tais mudanças culturais não apenas tivessem existido, mas também sido capazes de legitimar, em verdade, “uma transformação estrutural da sociedade capitalista” que luta diretamente contra “visões feministas de uma sociedade justa.”. Fraser entende, ainda, que tal questão se deu nas décadas seguintes à segunda onda, uma vez que disassociadas das pautas feministas as dimensões econômica, cultural e política da injustiça de gênero bem como sua inerente crítica ao capitalismo, dando margem à uma nova forma de capitalismo “pós-fordista, transnacional, neoliberal” (FRASER, 2009, p.14).
Para desenvolver esta sua tese, Fraser aponta o “capitalismo organizado pelo Estado” no pós-guerra a partir de suas vertentes economicista, androcentrista, estatista e westfalianista, e como a segunda vertente do feminismo, surgida coincidentemente durante esta “mudança histórica no caráter do capitalismo, da variante organizada pelo Estado (…) para o neoliberalismo” (FRASER, 2009, p.22) propôs críticas à cada uma destas facetas — bem como apoio em favor do Westfalianismo (FRASER, 2009, ps.15- 21). Ao mesmo tempo que a nova versão do capitalismo neoliberal ganhava mais força, ideais feministas atraíam “partidários de todas as classes, etnias, nacionalidades e ideologias políticas” (FRASER, 2009, p.23). Para Fraser, esta não seria, porém, uma mera coincidência, uma vez que o ideal feminista também se veria ressignificado neste processo, em seu caráter antieconomicista, antiandrocentrista, antiestatista e anti(e pró)- Westfalianista (FRASER, 2009, p. 23–28).
Em seu caráter antieconomicista, por exemplo, uma vez que as reivindicações feministas por “justiça” foram sendo progressivamente trocadas por reivindicações por “reconhecimento da identidade e da diferença”, surgiram “pressões poderosas para transformar a segunda onda do feminismo em uma variante da política de identidade”, deixando cada vez mais de lado suas críticas à economia política (FRASER, 2009, p. 23). Assim, trocando “redistribuição” por “reconhecimento”, o feminismo ia afastando-se também, portanto, de sua crítica seminal ao capitalismo (FRASER, 2009, p. 24). Já o caráter antiandrocentrista presente na segunda onda do feminismo, pôde ser captado pelo ethos neoliberal ao trazer com mais força a mão de obra feminina ao mercado de trabalho, trocando o “salário familiar” do “capitalismo organizado pelo Estado” pela norma da “família de dois assalariados”. Assim: “O capitalismo desorganizado vende gato por lebre ao elaborar uma nova narrativa do avanço feminino e de justiça de gênero” (FRASER, 2009, p. 25). Enquanto isso, o caráter antiestatista da segunda onda do feminismo, que criticava o “paternalismo do Estado de Bem-estar Social” como um “sistema de assistência sexista” teria sido a chave para governantes neoliberais desmantelarem o “Bem-estar social como conhecemos” (FRASER, 2009, p.26), dando espaço, entre outros exemplos, para a proliferação de ONGs, onde o Estado não se encontrava mais presente de outra forma — muitas destas até mesmo com o “objetivo de combater a pobreza das mulheres e a sujeição de gênero”. Já, em seu caráter contra e a favor do Westfalianismo, feministas da segunda onda viram-se, com a ascensão do neoliberalismo, muitas vezes direcionando suas energias para a arena internacional, uma vez que mudanças no plano estatal encontravam-se cada vez mais escassas (FRASER, 2009, p.27) Neste esteio, por exemplo, “campanhas para os direitos humanos das mulheres que focalizaram esmagadoramente as questões da violência e da reprodução, subjugaram as questões relacionadas à pobreza”. Campanhas estas que, na visão da autora, “intensificam a “onguização” da política feminista” dando voz “desproporcional para a elites que falam língua Inglesa” (FRASER, 2009, p. 28). Ainda assim, para Fraser, não há nestas constatações uma prova de fracasso completo da segunda onda do feminismo, nem mesmo a “culpa pelo triunfo do neoliberalismo” (FRASER, 2009, p. 29), uma vez que ambos (o atual feminismo e o atual neoliberalismo) ainda são divergentes no que tange às “formas pós-tradicionais de subordinação de gênero” (FRASER, 2009, p. 30).
Neste sentido, ao final de seu artigo, Fraser aponta, assim como Vergès, para um horizonte onde o capitalismo estaria em uma nova “encruzilhada crítica” e os feminismos poderiam destacar-se, mais uma vez, na contestação por um sistema mais justo e igualitário. Enquanto, para Fraser, o feminismo “enquanto movimento social” poderá lutar para que o “regime sucessor institucionalize um compromisso em relação à justiça de gênero” (FRASER, 2009, p. 29), Vergès aponta para o “feminismo decolonial como utopia” neste mundo onde a “desigualdades e injustiças sociais e raciais foram agravadas” deflagrando, “a imensa precarização criada pela globalização do capitalismo” (VERGÈS, 2021, p.125).
Vergès traz sua análise aos dias atuais, onde a pandemia de COVID-19 escancara quem são aquelas e aqueles aos quais o capitalismo neoliberal julga como descartáveis que podem ser “não apenas expostas/os ao vírus e à morte como também criminalizadas/os por isso” (VERGÈS, 2021, p.126):
“Durante o confinamento, aquilo que as feministas negras, do Sul Global, materialistas, ou sindicalistas racializadas vinham explicitando haviam décadas — que as mulheres racializadas constituem a base sobre a qual as sociedades constroem seu conforto — foi finalmente admitido por acadêmicas/os, jornalistas, representantes políticos e, desde então, midiatizado.” (VERGÈS, 2021, p.131)
Para Vergès, o neoliberalismo, entre outras coisas, visa “a transformação cultural do “eu” como um “programa construtivista que ambiciona submeter as populações e seu ambiente” (VERGÈS, 2021, p.138) e é, justamente contra este sentido, que as lutas feministas decoloniais e antirracistas vêm para atuar contra esse “sistema que faz da violência um modo de vida e de existência, que a institui como única forma de relação possível” (VERGÈS, 2021, p.134):
“Ao declarar guerra ao Estado, à polícia, aos juízes; ao considerar como condição de uma vida sossegada a saúde da Terra, assim como daquelas e daqueles que a habitam; ao destacar a necessidade de trabalho de limpeza das pessoas racializadas para o mundo, essas feministas e mulheres da luta apontam o aspecto multidisciplinar, transversal, transfonteiriço e internacionalista das lutas feministas de libertação” (VERGÈS, 2021, p.134)
Assim, Vergès aponta que o feminismo decolonial e a “imaginação de um futuro pósescravocrata, racista, capitalista, imperialista, patriarcal — é uma ferramenta potente nas mãos dos/as oprimido/as”, uma vez que ousa “imaginar um mundo onde a humanidade não esteja dividida entre vidas que importam e vidas que não importam” tal qual a “pedagogia política dos/as oprimidos/as” sempre procurou fazer. (VERGÈS, 2021, p.143) Assim, seja respondendo com ações diretas ou buscando formas alterativas de construção de redes de cidadania, coletivos feministas decoloniais e antirracistas seguiram atuando na linha de frente durante este período (VERGÈS, 2021, p.145) exigindo do Estado o que ele deve às populações racializadas e generificadas, sem perder sua autonomia e mantendo suas próprias condições e alternativas em conversas com as instituições; buscando a educação coletiva para todas e todos (VERGÈS, 2021, p. 148) com uma consciência aguda “da violência do Estado, do peso do colonialismo e do racismo sobre corpos e consciências, bem como da importância de toda forma de luta por “menor” que seja” (VERGÈS, 2021, p.150) — uma vez que é este o motor de um feminismo decolonial.
¹ Ou seja, que ideais feministas de igualdade de gênero tenham alcançado o “mainstream social”, muitos deste valores ainda não foram postos em prática, operando apenas no campo dos discursos.
BIBLIOGRAFIA
BROWN, Wendy. Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no Ocidente. São Paulo: Politeia Filosófica, 2019.
FRASER, Nancy. O feminismo, o capitalismo e a astúcia da história. Mediações, Londrina, v. 14, n. 2, jul./dez. 2009.
VERGÈS, Françoise. Uma teoria feminista da violência. São Paulo: Ubu Editora. 2021.









Comments